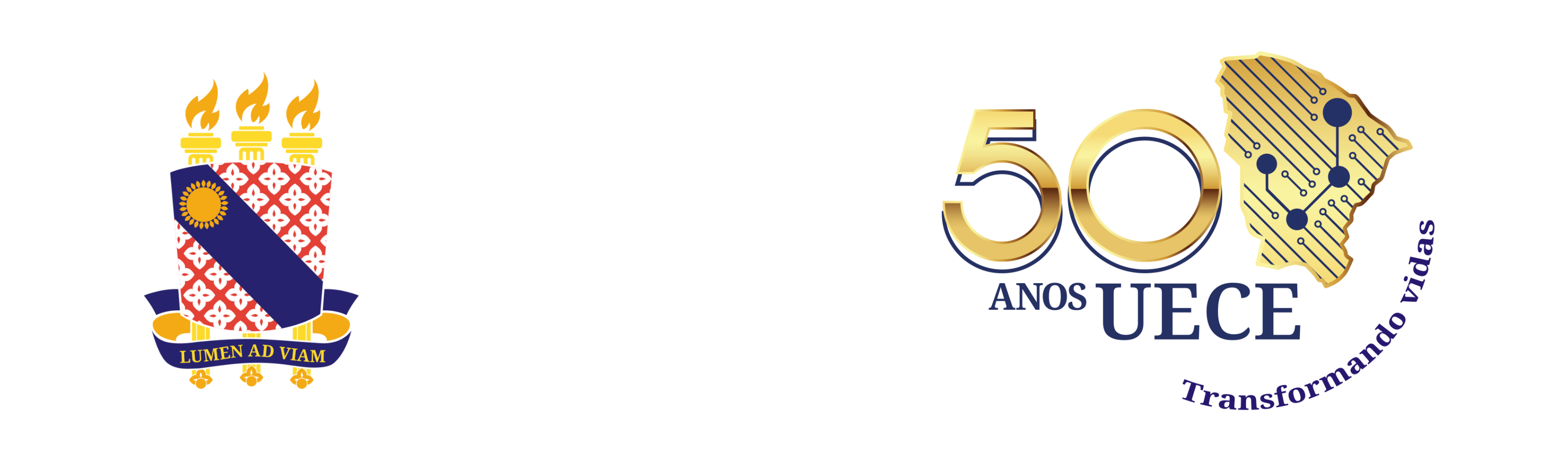Grade Curricular CMANS
23 de maio de 2011 - 19:33
RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS CONSTANTES DA GRADE CURRICULAR
DO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE – CMANS
GRADE CURRICULAR CMANS
1. Disciplinas obrigatórias
1.1 Bioestatística Aplicada à Saúde e Nutrição
A disciplina tem como objetivo transmitir ao aluno os conhecimentos sobre o método estatístico avançado utilizado em pesquisa nas áreas de alimentos, nutrição e saúde, o conhecimento e manuseio dos principais softwares estatísticos bem como desenvolver as competências para o delineamento estatístico de pesquisas científicas.
Ementa: Tópicos em probabilidade; Tópicos em estatística; Análise da variância; Métodos de amostragem; Análise de regressão e co relação
Professor (es): Paulo César Almeida.
Bibliografia
1) STEEL, R.G.D.; TORRIE, J.H. Principles and procedure of Statistics. New York: McGraw-Hill, 1960.
2) COCHRAN, G.W.; COX G.M. Experimental Designs. New York: John Wiley & Sons, 1980.
3) TRIOLA, M.F. Introdução a Estatística. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
4) LEVINE, D.M.; STEPHAN, D.; KREHBIEL, T.C.; BERENSON, M. L. Estatística: Teoria e Aplicações – Usando Microsoft Excel. 3. ed. Rio de janeiro: LTC Editora, 2005.
1.2 Metodologia da Pesquisa Científica
O curso objetiva favorecer ao aluno a compreensão dos métodos de construção do conhecimento científico e despertar a criticidade sobre os fatores que influenciam a produção científica.
Ementa: Métodos de investigação científica; Evolução do conhecimento; Revisão critica das abordagens teórico metodológicas que delimitam a pesquisa. Elementos definidores do processo de investigação científica.
Professor(es): Maria Marlene Marques Ávila, Diana Magalhães de Oliveira
Bibliografia:
1) Santos, B.S. Introdução a uma ciência pós moderna. 3.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
2) SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho cientifico. Rio de Janeiro: Cortez, 2007.
3) CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia Científica – Teoria e Prática. São Paulo: Axcel Books, 2004.
1.3 Epidemiologia Nutricional
Visa favorecer aos alunos a compreensão da produção social das doenças, bem como o papel da epidemiologia na identificação e análise dos problemas nutricionais e principais agravos à saúde da população.
Ementa: Conceito de epidemiologia e epidemiologia nutricional. Epidemiologia descritiva e analítica. Determinação do processo saúde-doença e história “natural” das doenças nutricionais. Principais delineamentos das pesquisas epidemiológicas e sua aplicação em estudos relacionados com Nutrição e Alimentação. Utilização dos métodos epidemiológicos para investigação do papel da alimentação e nutrição nos processos de saúde e doença.
Professor(es): Fernanda Maria Machado Maia e Nádia Tavares Soares (convidada externa).
Bibliografia:
1) KAC, G.; SICHIERI, R.; GIGANTE, D.P. Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.
2) MEDRONHO R.A. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2008.
3) MONTEIRO, C.A. (org). Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução do país e de suas doenças. São Paulo: Hucitec, NUPENS/USP, 2000.
4) ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia & Saúde. 5 ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1999.
5) SICHIERI, R. Epidemiologia da obesidade. Rio de Janeiro: UERJ, 1998.
6) WILLETT, W. Nutritional epidemiology. Second edition. Oxford University Press, Oxford, 1998.
7) WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. Geneva, 2000. (WHO – Technical Report Series, 894).
1.4 Promoção da Saúde
Tem por objetivo fazer um resgate do conceito de promoção da saúde no contexto socioeconômico, possibilitando a reflexão crítica sobre a sua emergência e integração com o SUS e as políticas de saúde.
Ementa: Referenciais teóricos da promoção da saúde e prevenção das doenças. Campos de ação da promoção de saúde. Modelos assistenciais em saúde. Impactos econômicos sociais e políticos da promoção da saúde. Pacto Nacional de Saúde. Educação Nutricional e promoção da saúde. Nutrição e qualidade de vida.
Professores: Derlange Belizário Diniz, Daniela Vasconcelos de Azevedo.
Bibliografia
1) BRASIL. Ministério da Saúde. Promoção da Saúde: Declaração de Alma – Ata, Carta de Ottawa, Declaração de Adelaide, Declaração de Sundsvall, Declaração de Santa Fé de Bogotá, Delaração de Jacarta, Rede de Mega países e Declaração do México, Brasília, 2001
2) Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção à Saúde. Brasília, DF, 2006. disponível em http:portal.saude. gov.br/portal/arquivos /pdf/portaria 687-2006-anexo1.pdf >
3) Czeresnia, D. Promoção da Saúde, conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003.
4) Mendes, E.V. Uma agenda para a saúde. 2. Ed. São Pauo. HUCITEC, 1996.
5) SILVA, L.M.V. (org) Saúde coletiva: textos didáticos. Centro editorial e didático: Salvador, 1994.
6) PHILIPPI Jr., A.; PELICIONAI M.C.F. (editores). Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005.
7) Restrepo, H.E; Malaga, H. (org). Promoción de la salud: como construir vida saludable, Bogotá, Ed. Medica Internacional, 2001.
8) CAMPOS, GWS et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006.
1.5 Didática do Ensino Superior
Objetiva discutir o processo ensino-aprendizagem e favorecer a formação da criticidade sobre o ensino superior no Brasil. Instrumentalizar os alunos para a elaboração e execução de disciplinas de cursos de graduação.
Ementa: Conceitos fundamentais em didática do ensino superior; Estratégias de ensino; O processo ensino/aprendizagem; Legislação do ensino superior no Brasil; Políticas de implementação e avaliação de cursos de nível superior; Planejamento de disciplina; Avaliação da aprendizagem.
Professor(es): Convidada Profa. Isabel Sabino (Centro de Educação, UECE).
Bibliografia
1) BORDENAVE, J.D.; PEREIA, A.M. Estratégias de ensino-aprendizagem. São Paulo: Vozes.
2) FREIRE, P. Pedagogia de Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
3) GIL, A.C. Avaliação da aprendizagem: Metodologia do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 1997. Cap 11, p.106-118.
4) GIL, A.C. Metodologia do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 1997.
5) LOWMAN, J. Dominando as Técnicas de Ensino. Atlas, 2004.
6) MOREIRA, D.A. (org) Didática do ensino superior: técnicas e tendências. São Paulo: Pioneira, 1997.
7) PERRENOUD, P. Dez novas Competências para ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 2000.
2 Disciplinas eletivas comuns
2.1 Métodos de Análise Qualitativa em Saúde
Objetiva familiarizar o aluno com a abordagem qualitativa, os métodos e técnicas de pesquisa qualitativa na área de saúde e nutrição.
Ementa: Compreensão e análise dos conceitos da bioética aplicada à saúde pública, bem como da regulação ética da pesquisa com seres humanos.
Professor (es):, Daniela Vasconcelos de Azevedo, Maria Marlene Marques Ávila
Bibliografia:
1) Bosi, M.L.M.; Mercado, F.J. (Org.). Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis-RJ: Vozes, 2004.
2) Oliveira, M.M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis-RJ: Vozes, 2007.
3) Denzin, N.K; Lincon YS. O planejamento da pesquisa qualitativa – teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed; 2006.
4) Minayo, M.C.S. O desafio do conhecimento – pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec; 2006.
5) Bauer, M.W; Gaskell, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis (RJ): Vozes; 2005.
2.2 Bioética
Professor (es): Convidado externo
Ementa: Direito, moral e ética. Princípios gerais da ética/bioética. A bioética e os direitos individuais. A ética em pesquisa. Dilemas éticos frente aos limites ou fronteiras do desenvolvimento científico e biotecnológico contemporâneos. Problemas éticos dos serviços de saúde.
Bibliografia
1) BELLINO F. Fundamentos de Bioética. Bauru: EDUSC, 1997.
2) Brasil. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. (Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996). Brasília: Ministério da Saúde; 1997.
3) Bioética e atenção básica: um perfil dos problemas éticos vividos por enfermeiros e médicos do Programa Saúde da Família, São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 6, p. 1690-1699, 2004.
4) FORTES, P.A.C.; ZOBOLI, E.L.C.P.. Bioética e saúde pública. São Paulo: CUSC/Loyola; 2003. p.11-24 .
5) BARCHIFONTAINE, CP; PESSINI, L. Bioética: alguns desafios. São Paulo: CUSC/Loyola; 2001. p. 163-180.
6) CLOTET, J.; GOLDIM, J.R.; FRANCISCONI, C.F. Consentimento Informado. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000.
7) VALLS A. O que é ética? São Paulo: Brasiliense, 2000.
8) VALLS A. Da Ética à Bioética. Petrópolis (RJ): Vozes. 2004.
2.3 Investigação Nutricional
Métodos e técnicas de avaliação nutricional incluindo antropometria, composição corporal, métodos clínicos, bioquímicos, funcionais e de consumo alimentar. Avaliação individual e populacional. Indicadores de diagnóstico e/ou prognóstico.
Professores: Fernanda Maria Machado Maia e convidados externos.
Bibliografia:
1) GIBSON RS. Principles of nutritional assessment. Second edition. Oxford University Press. Dunedin, New Zealand, 2005.
2) OMS. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. Geneva, 1995 (Technical Report Series, 854).
3) HEYMSFIELD, S.B.; LOHMAN, T.; WANG, Z. Human body composition. Second edition. Human Kinetics, Champaingn, Illininois, 2005.
4) LOHMAN, T.; ROCHE, A.; MARTORELL, R. Anthropometric Standardization Reference Manual. Human Kinetics. Champaign, Illinois, 1988.
5) WILLETT, W. Nutritional epidemiology. Second edition. Oxford University Press, Oxford, 1998.
6) KAC, G; SICHIERI, R.; GIGANTE, D.P. (org.) Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro: Fiocruz/Atheneu, 2007
2.4 Métodos Laboratoriais Para Estudo de Biomarcadores Nutricionais
Objetiva discutir métodos laboratoriais para os principais biomarcadores envolvidos no estudo de micronutrientes e doenças crônicas não transmissíveis.
Ementa: Espectrofotometria, Cromatografia: Conceitos fundamentais e uso. Bioquímica Clínica na investigação nutricional.
Professor(es): Ícaro Gusmão, Maria Luisa Pereira de Melo, Pedro Marcos Gomes Soares.
Bibliografia
1) KAPUT J.; RODRIGUEZ R.L. Nutritional Genomics: Discovering the Path to Personalized Nutrition. John Wiley & Sons, 2006.
2) OLIVEIRA, R.M.C.; CAL, R.G.R. Terapia intensiva. Nutrição. São Paulo: Atheneu, 2005.
3) COZZOLINO, S.M.F. (org). Biodisponibilidade de nutrientes. 3. ed. São Paulo: Manole, 2009.
3. Disciplinas eletivas da linha de Segurança Alimentar e Nutricional
3.1 Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional
Discutir e analisar a evolução e institucionalização do conceito de SAN no Brasil, suas implicações políticas, os atores e instrumentos de mediação implicados nas políticas de SAN.
Ementa: A disciplina abordará os princípios e componentes da política de Segurança Alimentar e Nutricional; a formulação e implementação de Políticas Públicas; as relações entre SAN, o Mercado, Estado e Sociedade; as diferentes formas de acesso a SAN e o papel dos governos; o Estado e a política de SAN. Abordará também o contexto sócio histórico em que surgem e evoluem as políticas e os programas de alimentação no Brasil, sua inserção no SUS e interação com outras políticas sociais
Professor(es): Maria Marlene Marques Ávila.
Bibliografia:
1) BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 2. ed. Textos básicos de saúde – Série B. Brasília, 2007.
2) CASTRO, J. Geografia da fome. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
3) MALUF, Renato S. Segurança alimentar e nutricional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
4) LEÓN, A.R.; MARTÍNEZ, E.; ESPÍNDOLA, A. Pobreza, hambre y seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá. Serie Políticas Sociales 88. CEPAL. Santiago de Chile. 2004.
5) ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGRICULTURA E A ALIMENTAÇÃO – FAO. La erradicación del hambre en el mundo: clave para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Italia, 2005.
6) VALENTE, F.L.S.; BEGHIN, N. Realização do direito humano à alimentação adequada e a experiência brasileira: subsídios para a replicabilidade. Brasília: ABRANDH, 2006.
7) COEP – COMUNIDADES, ORGANIZAÇÕES E PESSOAS. Rede Nacional de Mobilização Social. Relatório de atividades 2006. [S.I], 2006.
8) CONSEA – CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Princípios e diretrizes de uma política de segurança alimentar e nutricional. Brasília, 2004.
9) IPEA. Sobre a recente queda da desigualdade de renda no Brasil. Nota Técnica. Brasília, agosto, 2006.
10) ROCHA, M. (Org.). Segurança alimentar: um desafio para acabar com a fome no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.
11) CONSEA. 3ª. CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2007, Fortaleza. Por Um Desenvolvimento sustentável com soberania e segurança alimentar e nutricional. Relatório final 2007. Fortaleza: CONSEA, 2007.
3.2 Segurança e Qualidade de Alimentos
A disciplina objetiva capacitar os alunos para avaliar o risco causado pelas doenças transmitidas por alimentos, bem como seu impacto na saúde pública.
Ementa: Controle de qualidade de alimentos e saúde do consumidor. Avaliação da eficácia e eficiência do processamento e distribuição de alimentos. Interação entre constituintes, preservação, desenvolvimento de novas tecnologias. Desenvolvimento de técnicas para detecção de patógenos ou toxinas de patógenos nos alimentos. Alimentos orgânicos e geneticamente modificados. Investigação das reações alérgicas induzidas por aditivos alimentares, embalagens, métodos de conservação e processamento dos alimentos;
Professores: Paulo Henrique Machado de Sousa e Maria Izabel Florindo Guedes.
Bibliografia:
1) Bacteriological Analytical Manual. Food and Drug Administration (FDA), 2001. Disponível em: http://www.cfsan.fda.gov/~ebam/bam-toc.html
2) BASTOS, M.S.R. (org). Ferramentas da Ciência e Tecnologia para a Segurança dos Alimentos. Fortaleza: Embrapa Agroindustria Tropical/Banco do Nordeste do Brasil, 2008. 440p.
3) JAY, J.M. Microbiologia de Alimentos. Porto Alegre, Artmed, 2005, 211 p.
4) MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S.; KOBAYASHI, G.S; PFALLER, M.A. Microbiologia Médica. São Paulo, Guanabara/Koogan, 2002.
5) OMS. Doenças de origem alimentar, São Paulo, Rocca, 2007.
6) BEZERRA, A.C.D. Alimentos de rua no Brasil e saúde pública.São Paulo: Annablume; Cuiabá: Fapemat; EdUFMT, 2008. 224p
4. DisciplinaS ELETIVAS da linha de Nutrição e saúde
4.1 Nutrição em Especialidades Clínicas
A disciplina objetiva atualizar os alunos na abordagem nutricional com fins terapêuticos nas doenças do sistema digestório, pulmonar e renal e em estados críticos.
Ementa: Disciplina que aborda avanços científicos na avaliação e tratamento nutricional voltados para a recuperação da saúde do sistema digestório, pulmonar e renal. Aborda também o doente crítico e os aspectos práticos da terapia nutricional enteral e parenteral, por meio de aulas teóricas e discussão de casos clínicos.
Professor(es): Maria Luisa Pereira de Melo, Pedro Marcos Gomes Soares, Carla Soraya Costa Maia (convidado)
Bibliografia
1) AQUINO, R. C.; PHILIPPI, S. T. Nutrição Clínica – estudos de casos comentados. Barueri: Manole, 2009.
2) KOPLE, J.D.; MASSRY, S.G. Cuidados nutricionais das doenças renais. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
3) MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause’s alimentos, nutrição e dietoterapia. 12 ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2009.
4) REIS, N.T. Nutrição clínica – interações. Rio de Janeiro: Rubio, 2004.
5) SHILS, M.E. et al. Modern nutrition in health and disease. 10.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
6) VANNUCCHI, H.; MARCHINI, J.S. Nutrição e metabolismo; nutrição clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
7) WAITZBERG, D.L. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica. 3.ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Atheneu, 2009. 2 volumes.
4.2 Compostos Bioativos em Alimentos
A disciplina visa fornecer subsídios para a identificação dos componentes dos alimentos com funcionalidade, correlacionando-os com as doenças crônico-degenerativas e vantagens e limitações do enriquecimento de alimentos com propriedades funcionais;
Ementa: Propriedades metabólicas de micronutrientes e outros componentes funcionais dos alimentos. Regulamentação nacional e internacional. Métodos de análise de substâncias bioativas em alimentos. Utilização dos alimentos funcionais na prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. Estudo dos produtos naturais com atividade antimicrobiana, anticolesterolemica e glicêmica, atuando, entre outros, como antioxidantes, imitando hormônios e suprimindo o desenvolvimento de doenças. Estudo de biodisponibilidade de nutrientes, em particular relacionados aos problemas de saúde pública no país.
Professores:
Maria Izabel Florindo Guedes, Derlange Belizário Diniz, Ícaro Gusmão Pinto Vieira.
Bibliografia:
BILIADERIS, C.G., IZYDORCZYK, M.S. (Eds.), Functional Food Carbohydrates. Boca Raton: CRC Press, 2007. 570p.
ESKIN, N.A.M; TAMIR, S. Dictionary of Nutraceuticals and Functional Foods Boca Raton: CRC Press, 2007. 507 p.
FENNEMA, O. R. Química de los Alimentos, Editorial Acribia, S.A. Zaragoza, España, 2000.
MAZZA, G. Alimentos Funcionales. Zaragoza: Acribia, 2000. 480p.
WILDMAN, R.E.C.; Ed. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. 2nd Ed. Boca Raton: CRC Press, 2007. 541 p.
4.3 Controle Nutricional na Regulação Gênica
Ementa: Relação entre nutrição e regulação dos genes. Técnicas de biologia molecular e fatores envolvidos na regulação da transcrição dos genes. Efeitos da dieta e nutrientes específicos na expressão dos genes. Material didático disponível em: http://www.nature.com/scitable/groups/controle-nutricional-na-regula-o-g-nica-19591447
Professor(es): Diana Magalhães de Oliveira e Maria Izabel Florindo Guedes.
Bibliografia
1) KAPUT, J.; RODRIGUEZ, R.L. Nutritional Genomics: Discovering the Path to Personalized Nutrition. John Wiley & Sons, 2006.
2) YAKTINE, A.L.; POOL, R. Nutrigenomics and Beyond: Informing the Future. Workshop Summary National Academy of Sciences, 2007.
3) Committee on Animal Nutrition, Board on Agriculture and Natural Resources, National Research Council Scientific Advances in Animal Nutrition: Promise for the New Century, Proceedings of a Symposium Committee on Animal Nutrition, Board on Agriculture National Academy of Sciences, 2002.
4.4 Imunonutrição
Ementa: conceitos básicos, Sistema Imunológico – visão geral, Citocinas, Nutrientes com função imunológica, Função imunomoduladora, Função de barreira intestinal e Imuno nutrientes, Estado nutricional e resposta imune, Nutrientes imumomoduladores na prática clínica, Nutrientes imunomoduladores, Defesa imunológica afetadas por imunonutrientes.
Professor(es): Pedro Marcos Gomes Soares e Maria Izabel Florindo Guedes
Bibliografia
1) KNOBEL, E. Terapia intensiva em nutrição. São Paulo: Atheneu, 2005.
2) RIELLA, M. C. (Ed). Suporte Nutricional Parenteral e Enteral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. v.2, p.55-66.
3) RAMALHO, A. Alimentos e sua ação terapêutica. São Paulo: Atheneu, 2008.
VOLTARELLI, J.C.; DONADI, E.A.; CARVALHO, I.F.; ARRUDA, L.K.; LOUZADA JR, P.; SARTI, W. Imunologia Clínica na prática médica. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
4) WAITZBERG, D.L. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica. 3.ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Atheneu, 2009. 2 volumes.